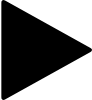Por Fernanda Lopes
O ônibus sacolejava nas ruas esburacadas da cidade. O cheiro de suor, perfume barato e fritura impregnava o ar quente, misturado ao som das conversas abafadas e da rotação irregular do motor. Marta segurava firme a bolsa no colo, sentindo os músculos ainda tensos depois de mais um dia de trabalho. Doze horas de pé, aguentando clientes rudes e um chefe que mal olhava na sua cara. Mas estava indo para casa, e isso bastava.
Então, o grito veio. Um rapaz de moletom encapuzado se levantou deu um salto, puxou um canivete e ordenou que todos entregassem celulares e carteiras. Ninguém reagiu. A rotina do medo já fazia parte do trajeto tanto quanto o estresse e a exaustão. Marta também conhecia essa cena — perdera dois celulares em assaltos assim. O seguro já nem cobria mais.
Mas, desta vez, algo dentro dela, se recusou a ceder.
Talvez fosse a fadiga, a indignação acumulada ou o simples instinto de sobrevivência. Quando o ladrão puxou a bolsa de uma senhora ao seu lado, Marta agiu. Um impulso cego, um golpe certeiro. O canivete virou contra o próprio dono, que caiu sem vida no chão do ônibus. O silêncio veio primeiro, depois os gritos. Algumas pessoas choraram, outras encararam a cena com um misto de choque e alívio.
A polícia chegou. Testemunhas relataram tudo. “Legítima defesa”, alguns disseram. “Ela salvou a gente”, afirmaram outros. Mas as algemas vieram mesmo assim. Marta foi colocada no banco de trás da viatura, sentindo o peso do metal frio em seus pulsos. Seu corpo ainda tremia, mas não pelo medo. Pela revolta.
No tribunal, Marta ouviu palavras difíceis. “Direito à vida”, “excesso de defesa”, “violência não justifica violência”. Seu advogado argumentou, clamou por justiça, citou precedentes. Mas o juiz, com seu terno impecável e olhar inexpressivo, leu a sentença sem hesitar: culpada. Prisão.
Do outro lado da sala, a mãe do assaltante chorava. “Ele era um bom menino”, disse. “Nunca machucou ninguém de verdade.” A narrativa estava completa. O algoz se tornara vítima, e Marta, a criminosa. A lei, imparcial e cega, assegurava que toda vida tem valor. Mas Marta se perguntou: será que a vida de um trabalhador tem o mesmo valor que a de um bandido que vive às custas do sofrimento dos outros? A vida do criminoso, que tirava dos outros para sustentar sua própria existência sem produzir, recebia o mesmo tratamento da vida de uma trabalhadora, que se entregava à luta diária pela dignidade e pelo sustento.
Marta não estava apenas sendo punida por sua ação — estava sendo punida por uma sociedade que, em sua cegueira, parece considerar que tanto o opressor quanto a vítima merecem o mesmo destino. Porque, antes de matar, ela era apenas mais uma trabalhadora voltando para casa, invisível entre os corpos espremidos no coletivo. Ninguém se preocupava se ela dormia mal, se sentia pavor cada vez que entrava naquele ônibus, se vivia no limite entre o cansaço e o desespero. Sua vida só ganhou peso quando foi julgada por tê-la defendido.
No final, a justiça proclamou que a vida do assaltante valia tanto quanto a dela. Bastou um instante — um ato de defesa, um reflexo de desespero — para que sua existência finalmente fosse notada, não como vítima, mas como ré. A justiça, tão rigorosa ao julgá-la, nunca esteve presente nos dias em que ela se sentiu acuada, quando perdeu o primeiro celular, o segundo, quando sua segurança valia menos do que um bem material. No fim, o que Marta fez foi se recusar a continuar sendo apenas um corpo passivo no coletivo — e por isso foi condenada.
Fernanda Lopes, Jornal Choraminhices.